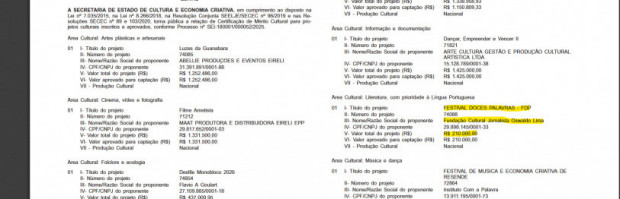Rio, São Paulo e Minas no espelho do Brasil
Edmundo Siqueira
William Passos
William Passos
O pequeno Justus nasceu na cidade de Darmstadt, no sul da Alemanha, nos primeiros anos do século XIX. Seu pai mantinha uma espécie de farmácia, onde comercializava produtos químicos usados em medicamentos e pintura. Havia um pequeno laboratório anexo ao estabelecimento, onde Justus von Liebig cresceu brincando de ser químico — e se tornaria um dos mais importantes cientistas da história moderna.
Entre seus feitos estão o fertilizante artificial e o espelho — ou, mais precisamente, a aplicação de uma fina camada de prata líquida sobre o vidro para criar a imagem refletida.
A imagem que o espelho cria é virtual e invertida, produzida a partir de um elemento real. No Brasil, o espelho, que já foi usado como moeda de troca na colonização, tem refletido uma sociedade polarizada, violenta e desconfiada. Mas qual é, afinal, a imagem refletida do Brasil de hoje? Como o brasileiro se vê — e, mais importante, quais são os elementos reais que produzem essa imagem no espelho?
Essas são algumas das perguntas a que se propõe a responder o mais novo livro do cientista político Felipe Nunes, intitulado “Brasil no espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros”, lançado pela Globo Livros, em novembro de 2025. Em entrevista concedida ao Folha1 nos primeiros dias de 2026, Nunes — diretor e fundador da conceituada Quaest Pesquisa — falou sobre o conservadorismo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, as eleições deste ano e os pontos em que o Brasil mais se reconhece — e mais se desconhece.
Para ampliar essa leitura, este texto dialoga também com o geógrafo William Passos, especialista em estatística e pesquisador formado pelo IBGE. Em uma escrita a quatro mãos — uma, analítica; outra, territorial — tentamos esmiuçar o que os números dizem sobre um ano decisivo para o Brasil e, em especial, sobre como o eleitorado do Rio de Janeiro se posiciona diante do conservadorismo, da insegurança e da política.
Entre seus feitos estão o fertilizante artificial e o espelho — ou, mais precisamente, a aplicação de uma fina camada de prata líquida sobre o vidro para criar a imagem refletida.
A imagem que o espelho cria é virtual e invertida, produzida a partir de um elemento real. No Brasil, o espelho, que já foi usado como moeda de troca na colonização, tem refletido uma sociedade polarizada, violenta e desconfiada. Mas qual é, afinal, a imagem refletida do Brasil de hoje? Como o brasileiro se vê — e, mais importante, quais são os elementos reais que produzem essa imagem no espelho?
Essas são algumas das perguntas a que se propõe a responder o mais novo livro do cientista político Felipe Nunes, intitulado “Brasil no espelho: um guia para entender o Brasil e os brasileiros”, lançado pela Globo Livros, em novembro de 2025. Em entrevista concedida ao Folha1 nos primeiros dias de 2026, Nunes — diretor e fundador da conceituada Quaest Pesquisa — falou sobre o conservadorismo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, as eleições deste ano e os pontos em que o Brasil mais se reconhece — e mais se desconhece.
Para ampliar essa leitura, este texto dialoga também com o geógrafo William Passos, especialista em estatística e pesquisador formado pelo IBGE. Em uma escrita a quatro mãos — uma, analítica; outra, territorial — tentamos esmiuçar o que os números dizem sobre um ano decisivo para o Brasil e, em especial, sobre como o eleitorado do Rio de Janeiro se posiciona diante do conservadorismo, da insegurança e da política.
O conservadorismo no Rio, em São Paulo e em Minas Gerais
Os dados da pesquisa que gerou o livro “Brasil no espelho” mostram que o conservadorismo brasileiro não é um bloco homogêneo. Ele se organiza como um conjunto de valores relativamente estáveis — ordem, autoridade, centralidade da família, fé e moralidade pública —, mas assume formas distintas conforme a experiência concreta com o Estado, a economia e a violência.
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais compartilham o rótulo, mas vivem conservadorismos diferentes. Em São Paulo, a ordem está associada à previsibilidade e ao desempenho institucional. No Rio de Janeiro, à proteção e à sobrevivência. E em Minas, à conciliação e à estabilidade. Essas diferenças ajudam a explicar não apenas escolhas eleitorais, mas também modelos distintos de capitalismo, desenvolvimento e relação com o poder público.
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais compartilham o rótulo, mas vivem conservadorismos diferentes. Em São Paulo, a ordem está associada à previsibilidade e ao desempenho institucional. No Rio de Janeiro, à proteção e à sobrevivência. E em Minas, à conciliação e à estabilidade. Essas diferenças ajudam a explicar não apenas escolhas eleitorais, mas também modelos distintos de capitalismo, desenvolvimento e relação com o poder público.
Nesse sentido, Nunes insiste que em São Paulo prevalece um conservadorismo de ordem, no qual há uma forte demanda por desempenho. Trata-se, assim, de um conservadorismo mais “institucional”, com forte necessidade de eficiência, previsibilidade, ambiente regulatório com regras claras, meritocracia e punição para quem “atrapalha”.
Por esses elementos, o conservadorismo paulista tende a enxergar o Estado com ambivalência, na medida em que, por um lado, aceita o Estado quando este entrega serviços públicos essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e segurança, mas, por outro lado, o rejeita quando o Estado ganha a forma de burocracia, corporativismo ou “privilégio”. Ainda a este respeito, Nunes lembra que, no conservadorismo dominante em São Paulo, a moralidade aparece, porém, frequentemente colada ao discurso de responsabilidade e disciplina.
Por outro lado, no estado do Rio de Janeiro, o que prevalece é um conservadorismo de segurança, no qual há uma forte demanda por proteção, o que é explicado, na visão de Nunes, pela insegurança cotidiana, com atributos — violência armada, crime organizado, territórios capturados, entre outros — que empurram o conservadorismo para o eixo da proteção. Esse cenário é explicado pela contingência da garantia do direito a não morrer.
Por esses elementos, o conservadorismo paulista tende a enxergar o Estado com ambivalência, na medida em que, por um lado, aceita o Estado quando este entrega serviços públicos essenciais, como saúde, educação, infraestrutura e segurança, mas, por outro lado, o rejeita quando o Estado ganha a forma de burocracia, corporativismo ou “privilégio”. Ainda a este respeito, Nunes lembra que, no conservadorismo dominante em São Paulo, a moralidade aparece, porém, frequentemente colada ao discurso de responsabilidade e disciplina.
Por outro lado, no estado do Rio de Janeiro, o que prevalece é um conservadorismo de segurança, no qual há uma forte demanda por proteção, o que é explicado, na visão de Nunes, pela insegurança cotidiana, com atributos — violência armada, crime organizado, territórios capturados, entre outros — que empurram o conservadorismo para o eixo da proteção. Esse cenário é explicado pela contingência da garantia do direito a não morrer.
Ainda no espelho do Rio de Janeiro, Nunes constata que o Estado é visto como ausente, frágil ou capturado, o que, por sua vez, explicaria o crescimento da tolerância social com “soluções duras” e com lideranças que prometem controle. Em paralelo, revelando o alto e forte contraste interno do conservadorismo fluminense, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, o cientista político identifica bolsões cosmopolitas e libertários relevantes.
Por sua vez, no espelho de Minas Gerais, que no seu íntimo reflete o Brasil, o que se impõe, na avaliação de Nunes, é o conservadorismo de conciliação/pragmatismo, que, mais “temperado”, valoriza família, tradição e ordem, mas costuma ser menos performático e mais pragmático. Outro achado importante da pesquisa que gerou o livro “Brasil no espelho” é o forte peso, no conservadorismo mineiro, do que Nunes chama de redes locais, municipalismo e “política do possível”. Espinha dorsal deste singular conservadorismo, a política do possível tende a punir radicalismos percebidos como ameaça à estabilidade, o que explica o fato do conservadorismo mineiro frequentemente se traduzir em moderação e “cautela” — o eleitor mineiro demanda segurança e entregas, mas desde que não haja rupturas.
Por sua vez, no espelho de Minas Gerais, que no seu íntimo reflete o Brasil, o que se impõe, na avaliação de Nunes, é o conservadorismo de conciliação/pragmatismo, que, mais “temperado”, valoriza família, tradição e ordem, mas costuma ser menos performático e mais pragmático. Outro achado importante da pesquisa que gerou o livro “Brasil no espelho” é o forte peso, no conservadorismo mineiro, do que Nunes chama de redes locais, municipalismo e “política do possível”. Espinha dorsal deste singular conservadorismo, a política do possível tende a punir radicalismos percebidos como ameaça à estabilidade, o que explica o fato do conservadorismo mineiro frequentemente se traduzir em moderação e “cautela” — o eleitor mineiro demanda segurança e entregas, mas desde que não haja rupturas.

Como o conservadorismo se reflete na dinâmica do capitalismo e do desenvolvimento econômico
Perguntado sobre como o conservadorismo se reflete na dinâmica do capitalismo e do desenvolvimento econômico, Nunes revela que os valores dominantes, por si só, não determinam o desenvolvimento, mas influenciam o tipo de coalizão política e o “clima institucional” que cada estado brasileiro constrói — e isso, por sua vez, se reflete na dinâmica do investimento, da produtividade, da informalidade e da capacidade estatal.
Nesse cenário, Nunes enxerga o conservadorismo de São Paulo como pró-previsibilidade, o que, por sua vez, favorece um capitalismo mais orientado à produtividade, competição, governança e à formação de cadeias complexas — indústria, serviços avançados e finanças. Este modelo de conservadorismo, por sua vez, pressiona por políticas públicas mais “gerenciais” — metas, controle, entrega e regulação mais estável —, ao mesmo tempo que tende a premiar governos com boa reputação de administração e infraestrutura.
Por outro lado, no caso do estado do Rio de Janeiro, o eixo proteção/segurança encarece o capitalismo. Isso acontece em função do aumento do custo de transação, além dos custos do risco, da informalidade e das “economias de coerção”. Assim, em função desta estrutura, a economia acaba por ficar mais sensível aos ciclos da renda extrativa/rentista — óleo, royalties e grandes contratos — e, ao mesmo tempo, menos sustentada por um ambiente amplo de pequenos e médios negócios protegidos por instituições fortes. Portanto, a promessa de “retomada” do controle territorial acaba por virar uma agenda econômica indireta, na medida em que, sem ordem territorial, a economia não floresce.
Finalmente, no caso de Minas Gerais, o pragmatismo e a busca por estabilidade tendem a produzir um capitalismo mais incremental, na visão de Nunes, isto é, diversificado — mineração, agro, indústria e serviços — e com forte peso da interiorização e da formação de cadeias regionais. Isso acontece porque a preferência por conciliação facilita a formação de arranjos de investimento e de infraestrutura quando há coordenação. Por outro lado, o capitalismo incremental mineiro acaba produzindo um efeito colateral importante, que é o gradualismo excessivo quando há a necessidade da realização de reformas, o que é explicado pelo predomínio da lógica menos “ruptura” e mais “ajuste”, baliza fundamental para a garantia da previsibilidade política e dos pactos locais firmados.
O espelho real e o distorcido
No fim, o que “Brasil no espelho” revela não é apenas a diversidade dos conservadorismos regionais, mas a dificuldade histórica do país em reconhecer a própria imagem sem distorcê-la. São Paulo se vê como engrenagem e o Rio, como um estado onde não se aplicam as mesmas leis dos “outros”, e Minas, como fiadora da estabilidade possível. Cada qual se reconhece — e se protege — a partir de sua própria experiência com o Estado, a economia e o medo.
Como no espelho de Liebig, a imagem que se forma não é falsa, mas invertida: parte de um elemento real, porém reorganizada por camadas de expectativa, insegurança e memória coletiva. O desafio político de 2026, mais do que escolher entre direita e esquerda, será compreender que o Brasil não cabe em um único reflexo.
Talvez o maior risco esteja justamente em insistir em buscar respostas uniformes para sociedades que se organizam a partir de medos distintos. Enquanto isso, o espelho segue posto. Não para nos dizer quem deveríamos ser — mas para revelar, com desconforto, quem de fato somos quando ninguém está olhando.
Perguntado sobre como o conservadorismo se reflete na dinâmica do capitalismo e do desenvolvimento econômico, Nunes revela que os valores dominantes, por si só, não determinam o desenvolvimento, mas influenciam o tipo de coalizão política e o “clima institucional” que cada estado brasileiro constrói — e isso, por sua vez, se reflete na dinâmica do investimento, da produtividade, da informalidade e da capacidade estatal.
Nesse cenário, Nunes enxerga o conservadorismo de São Paulo como pró-previsibilidade, o que, por sua vez, favorece um capitalismo mais orientado à produtividade, competição, governança e à formação de cadeias complexas — indústria, serviços avançados e finanças. Este modelo de conservadorismo, por sua vez, pressiona por políticas públicas mais “gerenciais” — metas, controle, entrega e regulação mais estável —, ao mesmo tempo que tende a premiar governos com boa reputação de administração e infraestrutura.
Por outro lado, no caso do estado do Rio de Janeiro, o eixo proteção/segurança encarece o capitalismo. Isso acontece em função do aumento do custo de transação, além dos custos do risco, da informalidade e das “economias de coerção”. Assim, em função desta estrutura, a economia acaba por ficar mais sensível aos ciclos da renda extrativa/rentista — óleo, royalties e grandes contratos — e, ao mesmo tempo, menos sustentada por um ambiente amplo de pequenos e médios negócios protegidos por instituições fortes. Portanto, a promessa de “retomada” do controle territorial acaba por virar uma agenda econômica indireta, na medida em que, sem ordem territorial, a economia não floresce.
Finalmente, no caso de Minas Gerais, o pragmatismo e a busca por estabilidade tendem a produzir um capitalismo mais incremental, na visão de Nunes, isto é, diversificado — mineração, agro, indústria e serviços — e com forte peso da interiorização e da formação de cadeias regionais. Isso acontece porque a preferência por conciliação facilita a formação de arranjos de investimento e de infraestrutura quando há coordenação. Por outro lado, o capitalismo incremental mineiro acaba produzindo um efeito colateral importante, que é o gradualismo excessivo quando há a necessidade da realização de reformas, o que é explicado pelo predomínio da lógica menos “ruptura” e mais “ajuste”, baliza fundamental para a garantia da previsibilidade política e dos pactos locais firmados.
O espelho real e o distorcido
No fim, o que “Brasil no espelho” revela não é apenas a diversidade dos conservadorismos regionais, mas a dificuldade histórica do país em reconhecer a própria imagem sem distorcê-la. São Paulo se vê como engrenagem e o Rio, como um estado onde não se aplicam as mesmas leis dos “outros”, e Minas, como fiadora da estabilidade possível. Cada qual se reconhece — e se protege — a partir de sua própria experiência com o Estado, a economia e o medo.
Como no espelho de Liebig, a imagem que se forma não é falsa, mas invertida: parte de um elemento real, porém reorganizada por camadas de expectativa, insegurança e memória coletiva. O desafio político de 2026, mais do que escolher entre direita e esquerda, será compreender que o Brasil não cabe em um único reflexo.
Talvez o maior risco esteja justamente em insistir em buscar respostas uniformes para sociedades que se organizam a partir de medos distintos. Enquanto isso, o espelho segue posto. Não para nos dizer quem deveríamos ser — mas para revelar, com desconforto, quem de fato somos quando ninguém está olhando.