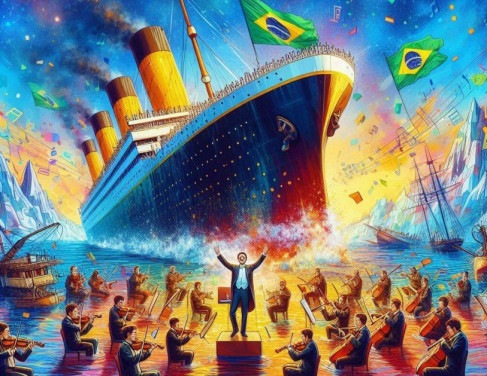O debate sobre o ativismo judicial no Brasil se intensificou na última década, especialmente diante da atuação do Supremo Tribunal Federal e da herança da Lava-Jato. A controvérsia tem fundamento: é possível perceber excessos em ações do poder que julga, e operações dos órgãos de repressão sob seu guarda-chuva — como exemplo, a citada Lava-Jato — resultaram em pessoalidades e interesses políticos evidentes. Porém, assim como é preciso entender o “homem e suas circunstâncias” — frase do filósofo espanhol José Ortega y Gasset (1883-1955) —, torna-se necessário pensar o mesmo das instituições e dos poderes.
Desde que John Locke e Barão de Montesquieu — figuras-chave do Iluminismo e da teoria política — pensaram o Estado como uma estrutura onde há necessária separação entre os poderes, defende-se a ideia de equilíbrio. É preciso que haja limitações para exercer o poder, e também que diferentes estruturas concentrem atividades com princípios distintos para que o poder possa ser efetivamente exercido. Um jogo que deve ser equilibrado, pelo menos em democracias.
No sistema tripartite, o judiciário, o executivo e o legislativo formam um equilíbrio de vértices móveis, onde o protagonismo de um poder pode se inclinar conforme o peso das circunstâncias; vértices que não podem ser estáticos. A depender das circunstâncias, esse “triângulo” deve inclinar-se para que a base esteja sustentada por poderes submetidos a um outro de ponto mais elevado. E essa posição deve ser invertida caso mude as circunstâncias novamente; não há supremacia de poderes numa democracia, o que precisa acontecer é alternância.
Além da tripartição dos poderes, deve existir hierarquia e equilíbrio de forças dentro de cada um. O órgão máximo de um poder não pode decidir sozinho, ele precisa, além de se submeter às leis constitucionais, entender que faz parte de uma estrutura maior, onde o poder deriva da coletividade e sempre deve ser exercido através de representações colegiadas. O Senado interfere no Supremo, assim como o Supremo pode interferir no governo executivo. Em um jogo de forças complexo, a democracia se consolida quando decisões podem ser alvo de contestação.
Quando se contestam julgamentos e as penas definidas a partir deles, não se pode contestar a legitimidade do poder judiciário em fazê-lo, e sim os indivíduos que estão investidos em togas e funções públicas, sob pena de subverter os mesmos princípios que se pretende mostrar maculados. Um juiz exerce seu poder primeiro — de julgar — revestido de prerrogativas conferidas por um acordo social onde liberdades e direitos são limitadas em nome do interesse coletivo — onde o próprio juiz está inserido. Portanto, seus julgamentos não podem ser isentos de contestação. Quanto mais acima da pirâmide, mais necessário se faz o equilíbrio para manter-se nessa posição.
Mas existe uma diferença fundamental entre equilíbrio e revanchismo. Na relação entre Senado e Supremo, por exemplo, trata-se de movimentos dos vértices de poder, onde os excessos são punidos, quando estes são praticados por indivíduos. Caso um juiz supremo esteja sob o escrutínio de senadores, não se pode confundi-lo com o órgão colegiado que ele faz parte. Nesse caso, não está em julgamento o Supremo, e sim decisões proferidas por seus integrantes, no interior de sua complexa engrenagem institucional.
Cabe ao Supremo o julgamento de uma trama golpista que visava subverter por completo a democracia e a ordem institucional vigente. Cabe aos julgadores do topo da pirâmide determinar — após julgamento feito com observação de todas as garantias — quais serão as punições dos indivíduos envolvidos na tentativa de golpe. Para que a ameaça de golpe de Estado tenha alguma gravidade e possibilidade de dano, ela deve ter sido arquitetada por representantes de grupos com forte poderio armado, que podem ser formados fora das estruturas democráticas, ou por integrantes do alto escalão dos poderes constituídos. A estrutura do Estado não sofre ameaça caso seja atacada por organizações ou pessoas sem essas características, uma vez que o acordo social delegou ao Estado o uso da força e da coerção.

A condenação dos responsáveis por atentarem contra o Estado Democrático de Direito é legítima e necessária. Mas nenhum poder pode se cristalizar sobre o trauma de um golpe frustrado. Passado o julgamento, a democracia só estará verdadeiramente protegida se os vértices do poder voltarem a se mover. Um Supremo fortalecido pelo enfrentamento do extremismo deve seguir submetido ao controle constitucional, como qualquer órgão republicano.
O Senado, ao exercer sua função fiscalizadora, deve fazê-lo em nome da legalidade — e não da vingança. E o Executivo, apesar de eleito, não pode confundir maioria com soberania. A saúde democrática não se mede pela rigidez das instituições, mas por sua capacidade de flexionar-se sem romper.
Sob ataque, a democracia precisa sim se proteger. E o peso de circunstâncias excepcionais, como as vividas nos últimos anos, pode momentaneamente inclinar a pirâmide democrática — mas ela precisa voltar a se equilibrar. O poder que se fixa, mesmo em nome da democracia, deixa de ser equilíbrio — e começa a ser dominação.
Leia mais
-
Da cana ao Guanabara: a vocação política de Campos sempre com olhos para a capital
-
Anistia de ontem, de hoje e os seus méritos
-
Lula III e o beep no caixa do supermercado
-
Moraes, a Vespa e a Quimera: a justiça e a tragédia no Brasil do golpe
-
Golpismo, Tiu França e planos de assassinatos: o ódio que acende os rastilhos